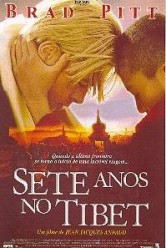Sete Anos no Tibete
“Sete Anos no Tibete”- “Seven Years in Tibet”, Estados Unidos, 1997
Direção: Jean-Jacques Annaud
Oferecimento 
Ele era obcecado por alpinismo. Atleta, gostava de vencer. E o desafio agora era subir ao ponto mais alto dos Himalaias, o pico Nanga Parbat, na Índia.
Estamos em Vienna, 1939 e a guerra se aproxima. Mas o austríaco Heinrich Harrer (Brad Pitt) só se interessa por seus planos. Sua mulher espera o primeiro filho deles e sua hora já está próxima mas Heinrich vai partir mesmo assim. Com a bandeira nazista na mão promete distraidamente aos repórteres que irá coloca-la no alto do pico, antes de entrar no trem que o levará mais perto de seu destino.
Ele e seu guia, Peter Aufschnaiter (David Thewlis), começam a subida. O espetáculo das imagens na tela é belíssimo. Mas não são os Himalaias, são os Andes o lugar escolhido para a filmagem, por ser mais acessível ainda hoje.
Os alpinistas passam por vários apertos e o tempo fecha, fazendo com que tenham de esperar no acampamento. Quando tudo estava propício para a subida final, uma avalanche destrói os planos de conquista do Nanga Parbat.
Quando descem são presos pelos ingleses porque a guerra começara e o território onde estavam era protetorado inglês, inimigo da Alemanha e da Áustria. Os dois ficam no campo de prisioneiros e depois de várias tentativas de fuga, são bem sucedidos.
Na segunda parte do filme é que vamos conhecer o Tibete, um dos países mais isolados do mundo naquela época, onde vivia um povo pacífico, inimigo da guerra e de estrangeiros. Sua cultura milenar, totalmente diferente da ocidental, tem no Dalai Lama seu líder máximo.
O encontro de Heinrich com o Dalai Lama, um menino de 11 anos, é o ponto alto do filme que foi adaptado da biografia do austríaco. Adorado como a reencarnação do primeiro líder tibetano, o menino se encanta com os cabelos amarelos do austríaco e faz dele seu tutor. Todo o tipo de pergunta sobre o ocidente preenche os encontros dos dois.
Algo de paternal também existe nessa relação. Afinal, Heinrich volta a pensar em seu filho e escreve cartas para ele. Mas, para sua tristeza, quando sente que cultivou um vínculo de amor com a criança, ele lhe escreve negando-o como pai e pedindo para não lhe escrever mais.
Heinrich cai numa depressão profunda que o faz rever seus valores e há uma aproximação maior com o menino sagrado.
O filme de Jean-Jacques Annaud tem uma produção de arte esmerada e os trajes, a decoração dos ambientes e a arquitetura do palácio em Lhassa, a cidade sagrada, são interessantes.
Brad Pitt com seu charme natural e lourice admirada, faz bem o papel do homem egoísta e frio que, aos poucos, vai temperando seus humores, perante as dificuldades da viagem, tornando-se mais solto e generoso durante sua estadia entre os amistosos tibetanos.
Infelizmente, nos anos 50 o Tibete é invadido pela China comunista e tem grande parte de seus tesouros artísticos destruídos e seu povo massacrado.
Aos 21 anos, o Dalai Lama tem que abandonar o Tibete e hoje corre o mundo encantando plateias com suas sábias palavras em palestras bem frequentadas.
O filme poderia ter se aprofundado mais sobre os usos e costumes do Tibete mas o que foi privilegiado foi a relação entre Kundum, o menino sagrado e o austríaco que passou a encarar mais o seu mundo interno e menos as glórias mundanas.
Até hoje os dois são amigos.